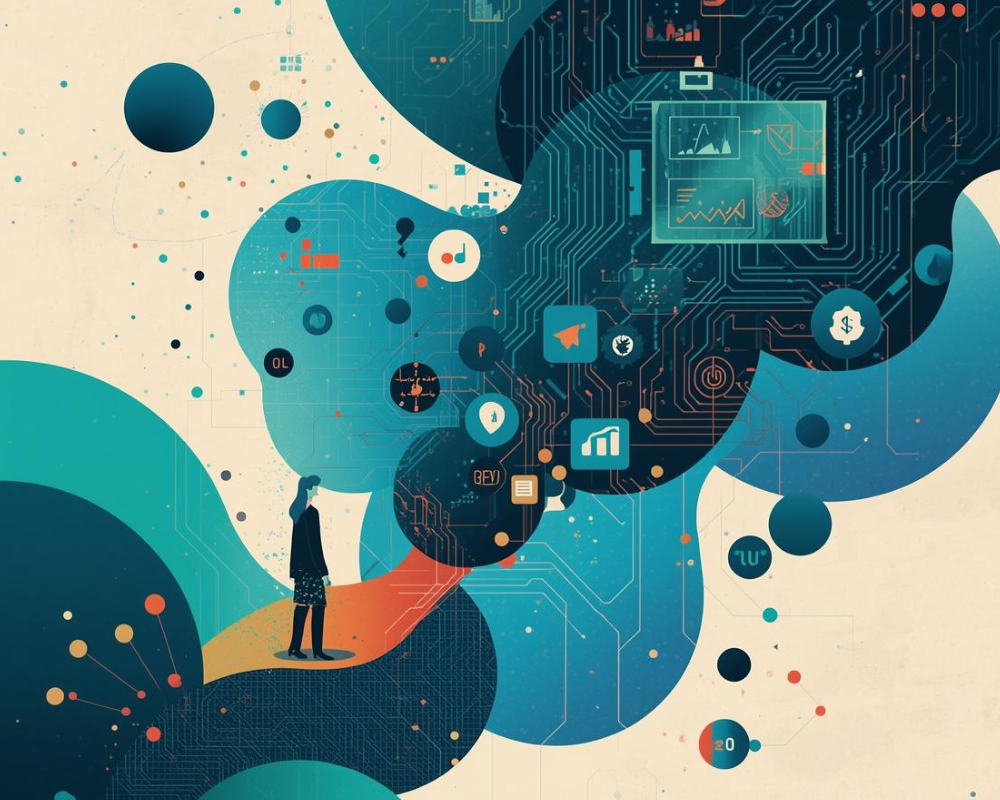E se a “tecnoplasmose” estiver a guiar o marketing sem darmos por isso?
A “tecnoplasmose” descreve o fenómeno através do qual plataformas, painéis e best practices vão reprogramando o critério das equipas, até que estas passem a dar prioridade ao que é mensurável em detrimento do que é significativo. A comparação com a toxoplasmose é intencional: tal como o parasita altera o comportamento do hospedeiro sem que este se aperceba, a dependência de dashboards e KPIs leva as equipas a otimizar aquilo que beneficia a plataforma — engagement, crescimento, receita — e não necessariamente o que constrói valor de marca.
É assim que o descreve um artigo do The Drum, que identifica o primeiro sintoma desta infeção: a mudança das perguntas. Onde antes se questionava se uma ideia criava memória, preferência ou predisposição para pagar, agora pergunta-se apenas se vai melhorar o relatório da semana. A medição deixa de ser um meio e passa a ser um fim em si mesma. O que o sistema não mede parece irrelevante; o que mede, é tomado como verdade. Essa aparente racionalidade — folhas de cálculo, taxas de cliques, visualizações completas — esconde uma realidade incómoda: a tecnologia nunca é neutra. Traz embutidos incentivos que favorecem o curto prazo, precisamente onde assenta o seu modelo de negócio.
O risco agrava-se em contextos de incerteza: orçamentos apertados, pressão pela accountability, ciclos trimestrais. Nessas circunstâncias, as equipas refugiam-se nos números imediatos e encadeiam pequenas vitórias tácticas — subidas marginais em gráficos — à custa da relevância cultural, explica o mesmo meio. É possível vencer todos os trimestres do painel e, ainda assim, perder a década do negócio: otimizar até à irrelevância.
A solução não passa por rejeitar a tecnologia, mas por recolocá-la no lugar certo. As métricas são úteis, mas parciais: sombras da realidade. O marketing eficaz atua em dois horizontes simultaneamente.
No curto prazo, é essencial controlar o reach efetivo, a frequência, a incrementalidade e a eficiência de conversão — sem confundir atribuição com causalidade.
No longo prazo, importa sustentar indicadores de equity — penetração, distintividade criativa, preferência, preço relativo, share of search — que nem sempre cabem num painel, mas são precisamente os que alimentam o crescimento real.
Esse reequilíbrio exige reintroduzir medidas humanas nos processos. Antes de refinar lances, importa perceber se a ideia se entende, se gera empatia ou um sorriso, se deixa rasto na memória, se a marca surge com fluidez e com códigos distintivos. Requer, ainda, uma governança de dados que distinga métricas de entrega — próprias da plataforma — das métricas de negócio, incorporando testes de incrementalidade, zonas de controlo e janelas temporais suficientemente amplas para observar efeitos que vão além do clique.
Também implica desenhar experiências com hipóteses claras, tamanhos de efeito razoáveis e tempos de leitura adequados — semanas para o mid-funnel, meses para a marca —, bem como regras de frequência que protejam a experiência do utilizador e evitem a fadiga publicitária, sobretudo em formatos em direto e ambientes de alta pressão de impactos.
Em síntese, a tecnoplasmose não é uma anedota, mas uma tendência. Cada tecnologia molda o pensamento, e as plataformas atuais fazem-no mais depressa, em escala e com interesses que raramente coincidem com os das marcas. O antídoto é claro: devolver o timão à estratégia.
Usar a tecnologia para servir a marca — e não o contrário.
Combinar métricas operacionais com sinais de equity.
E, sobretudo, medir melhor, não apenas mais, para construir valor que perdure mesmo quando ninguém está a olhar para o dashboard.